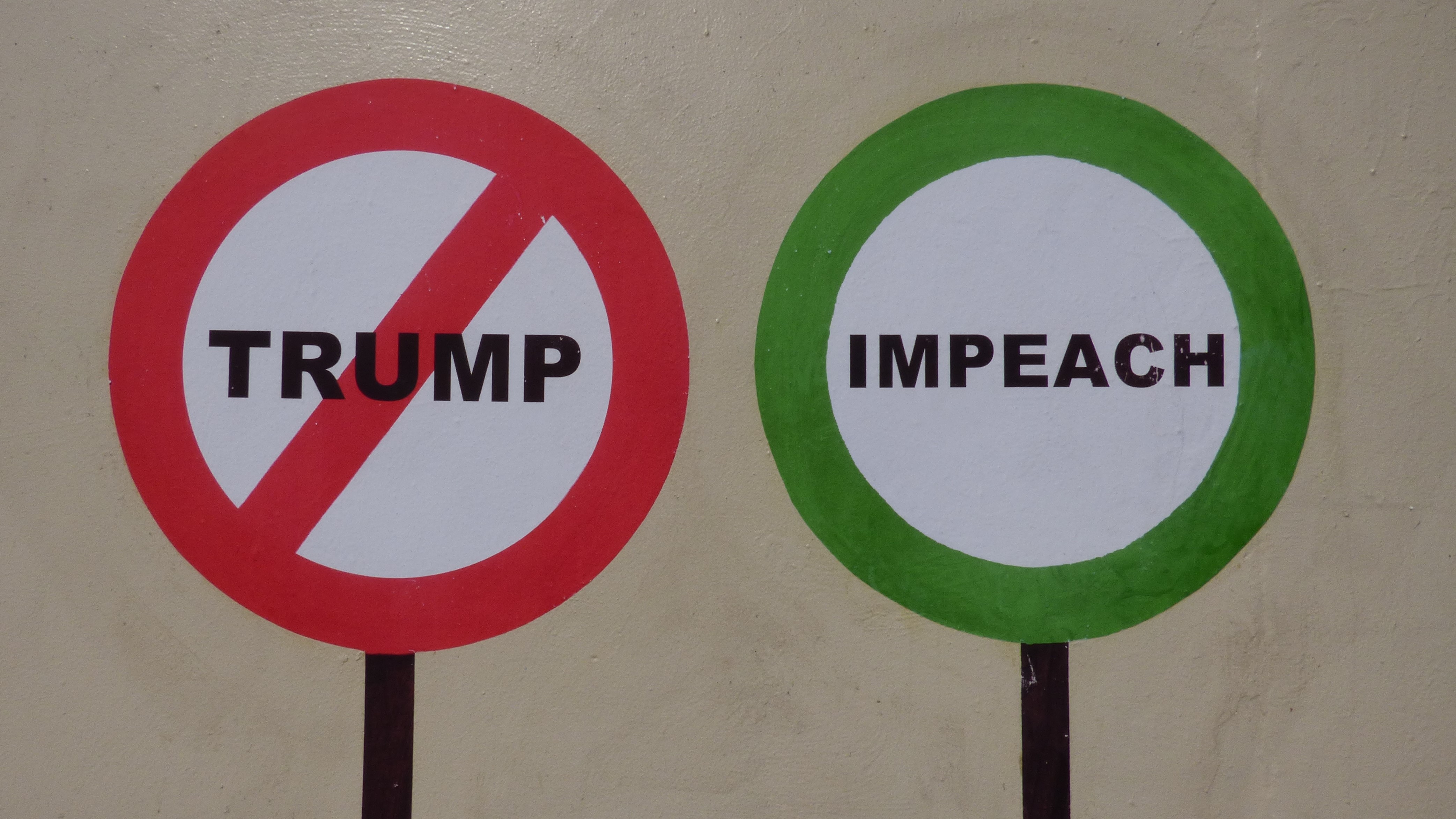Tendo uma vez decidido que ia passar o ano e o meu aniversário em Miami, era preciso encontrar onde ficar. Tentei no Couchsurfing, mas se só um a cada vinte me respondia, a resposta era negativa. No AirBnB encontrei alguns sofás a dez dólares, o que era bom, mas não era ideal.
Talvez lembrando-me do grupo “Portugueses em Angola” questionei-me se não haveria um “Portugueses em Miami”. Havia uma página. Com cento e tal seguidores. Não era muito, mas decidi tentar. Enviei mensagem e…
Perfeito, tinha guarida garantida em Miami!
Saí do voo onde dormir mais horas de toda a minha VIDA, esperei na fila, meio nervoso, para dar o meu passaporte, a senhora fez uma ou duas perguntas e estava em território americano! Peguei na mala, liguei-me à net do aeroporto, comuniquei com o Guilherme e o meu anfitrião apareceu passado meia hora. Quando saí cá fora não levei com aquele bafo indiano que nos diz que estamos em viagem mesmo que não queiramos ouvir, mas levei com um calor inesperado, e aquele cheiro… é um cheiro qualquer que nunca consegui identificar mas que sinto muitas vezes quando saio do aeroporto em países mais quentes. Esse cheiro também me relembra que estou longe de casa.
Quando os contactara pela primeira vez e me aceitaram, desejei que fossem fixes, claro. Porque seria fixes para eles próprios serem fixes, e porque eu ia lá estar na passagem de ano! Topei logo o Guilherme. Eu esperava num passeio no meio da estrada em U fora do aeroporto, a reparar que ali, além de quase nenhum carro usar a matrícula à frente, não havia nenhuma chapa velha, quando o vi estacionar. Vi-o sair do seu Ford Focus escuro, de cabelo rapado, camisola fina de carapuço e calças de fato de treino e duas ou três caralhadas depois do famalicense sabia que ia ser na boa a minha estadia. Tinha ido para Miami há dois anos e meio. Primeiro foi apenas três meses. Mas conheceu a Lyli, e isso mudou tudo. Apaixonou-se e quando voltou a Portugal disse que voltaria a Miami para estar com ela. A Lyli achou que era “daquelas cenas que o pessoal diz” mas ele manteve-se fiel à palavra e regressou.
Pelo caminho foi-me contando acerca do seu percurso nos Estados Unidos. Esteve nas obras, depois foi nomeado responsável de uma cena qualquer e agora trabalhava numa empresa portuguesa de soalhos de madeira. À medida que íamos avançando pelas ruas de metrópole eu olhava para o que me circundava, de braço fora da janela, e pensava que estava ali. Estava nos em Miami, nos Estados Unidos. Só o facto de saber que estou num sítio é turismo por si só. Porque… estou ali, estou longe, no imaginado, longe de casa.
Eles viviam em Northbay Billage, uma ilhota de estilo artificial em formato de ferradura. Estávamos do lado esquerdo da ferradura, e esse lado era uma avenida ladeada, inicialmente, por umas casinhas de dois andares brancas com varanda de um lado ao outro, e depois por prédios de 12, 14, 17 andares. Acabava numa rotunda que dava acesso ao prédio final, de onde saíam com frequência carros de luxo. O prédio do Guilherme e da Lyli era um pouco antes, à direita, e eles viviam no nono andar. Quando a porta abriu vi, à minha direita, uma cozinha, e à frente um corredor que dava para a sala, onde estava o Kylan, filho da Lyli, de nove anos, a jogar um jogo de corridas. Tinha cabelo e olhos escuros, umas sardas engraçadas na face, cabelo curto, uma pancita, e era um rapaz simpático. Não sei se aos nove ainda se chora muito, mas não o vi chorar uma única vez nos seis dias em que lá estive. “Olha, Kylan, este é o Pedro…” anunciou o Guilherme. “Eu sei, Pedro On The Road” rematou o miúdo, sentado ao volante do seu Ferrari, com os pesitos nos pedais. A casa tinha dois quartos e eu ia ficar no quarto do Kylan, que dormiria com a Lyli e o Guilherme.
“De que é que precisas, Pedro?” perguntou o Guilherme.
“Pá, precisava mesmo de um banho, estou aqui que não posso.”
“Claro, claro… mas bebes uma cerveja primeiro.”
“Bebo, pois.”
“Então vamos ali para a varanda que a Lyli está lá a fumar um cigarro.”
Abrimos a janela e encontrei a Lyli, mas foi difícil focar-me nela com tudo o que via à volta. Via a cidade-cidade lá ao fundo, via água, via barcos, via aqueles prédios que ao longe ficam escuros e só se vislumbram quadrados de luz aqui e ali. E a Lyli, baixinha, de cabelo castanho claro, com um olhar atento e também, claro, algumas sardas. Conversámos um pouco acerca de onde tinha andado, para onde ia, e quando ela foi para dentro acabar o bacalhau à brás que preparara eu fui tomar banho. Jantámos com algum vinho, fomos conversando, e no final fomos para a varanda comer uma sanduíche e beber um whiskey. Desta feita uma varanda que dava para aquele braço de mar enorme onde estava a ilha deles, de onde se via melhor a praia lá ao fundo, ilhotas desabitadas, e uma brisa suava que ia acentuando algum frio à medida que o tempo passava. Nessa noite queimámos as etapas todas que havia a queimar naqueles primeiros contactos, e largei as minhas vestes de hóspede e assumi as de amigo. Era um casal porreiro que se complementava bem. Ela mais calma e compreensiva, ele um pouco mais explosivo, apesar de pouco, e engraçado. “Depois no dia 31 temos uma festa na escola do Kylan, se quiseres ir.” “Ó amor achas?! Nem eu quero ir!…” disse o Guilherme, em nortenho, para me partir a rir, enquanto reparava nuns buracos que tinham de cada lado da janela. “Quando vêm os furacões temos de tapar tudo. Porque o vento vem com cenas que pode partir os vidros, depois vem o vento para casa, chuva, e é um 31 do caralho!” respondeu o Guilherme. Explicou-me depois que os furacões são alturas de o pessoal curtir. “Quando vem o furacão fechamos tudo e encontramo-nos todos em casa de alguém e é para a borracheira. Os putos na escola já vão a perguntar ‘Vais ficar em casa de quem?’ porque já sabem que vai haver festa. “É verdade,” disse a Lyli, “quando foi este último… o Hirma… o Kylan chegou a casa e só disse a gritar ‘Party!! Hurricane!!’”
No dia seguinte fui com o Guilherme e o Kylan dar uma volta por Woodwind, a zona mais hippie da cidade. Gostei, e começava a gostar bastante da cidade no geral. Tinha vários estilos de habitações, desde arranha-céus enormes a casinhas com os varandis que referi, e era frequente encontrarmos casa, cafés, restaurantes totalmente pintados ou grafitados com muito estilo. Se isto acontecia com alguma frequência, em Woodwind era estabelicmento sim, estabelecimento não.Tinha nesta zona ainda as Woodwind Walls, uma parte onde artistas eram convidados a partilharem a sua arte em grandes paredes do que parecia ter outrora sido fábricas, e acabava numa galeria de arte com quadros à venda por dezenas de milhares de dólares.
Tinha dito ao Guilherme que era mais ou menos imune ao jet-lag e talvez o tenha dito cedo demais, pois depois de almoçarmos num restaurante de tacos pitoresco e colorido ao lado de casa deles comecei a sentir-me cansado e ensonado. Voltámos, descansámos um bocado e quando a Lyli chegou fomos todos jantar a um restaurante peruano. Regressámos a casa e fomos para a varanda continuar a conversa, o que, de resto, se tornou a nossa rotina nocturna, mais ou menos.
Era cerca da uma da manhã quando eles foram dormir e eu fui sair. Apanhei um Uber e fui ter com o Fouad, um saudita que eu encontrara no Couchsurfing. Era um rapaz baixinho, bonito, super-árabe nas suas feições e tons, e muito sorridente. Íamos mudar de bar quando tive uma introdução a um aspecto americano que, claramente, é diferente. Os carros da polícia americanos são deveras americanos. Grandes, com muito estilo, vidros fumados, como de resto vários outros carros, e apesar de não se ver polícia nas ruas, vemos um carro com alguma frequência, parado, muitas vezes com as luzes ligadas. Vi um destes carros parado, uma porta aberta, e dois polícias cá fora a prender um casal. Eles estavam a resistir e aquilo tornou-se um pouco numa cena. Não deve ter passado um minuto até estarem ali cinco ou seis carros de polícia por causa de uma zaragata de casal. Este incidente interrompeu a conversa que estava a ter com um dos amigos do Fouad sobre os sauditas. Ele queixava-se dos preconceitos que as pessoas têm acerca dos sauditas e eu concordava, mas queria perceber até que ponto esses preconceitos era infundados em relação a pessoas como ele. Perguntei-lhe sobre o uso da burca e ele concordou, pois “Não quero que um homem se excite com algo que é meu.” Fui mais longe e perguntei se ele achava que uma mulher que trai o seu homem deveria ser apedrejada até à morte e ele, depois de alguma hesitação de três ou quatro segundos, disse que não. “Consegues perceber que com essa hesitação estás a contribuir para parte desses preconceitos? Eu sei que disseste que acabaste por dizer que não, mas essa hesitação quer dizer alguma coisa. Estamos a falar de apedrear alguém até à morte, estás a ver?”
“Sim, eu sei, mas eu acho o mesmo para os homens!”
“Podes achar, mas é algo brutal na mesma… é medieval, barbárico!” Não é? Não acho que esteja a ser intolerante ao dizer isto. Acho que ser intolerante em relação à simples diferença entre os povos é totalmente diferente de ser intolerante em relação a determinados comportamentos ou atitudes, seja apredrejamento até à morte, pena de morte no geral ou sistema de castas na Índia. O importante é não deixarmos que essa intolerância por uma atitude se torne na intolerância da pessoa que a tem, pois aí perdemo-la, e se achamos que temos razão, perdemos a oportunidade de lhe mudar a opinião. Mas porque é qe havemos de lhe mudar a opinião, não é? Penso muito nisto. Acho que é o nosso dever mas é importante partir sempre de uma posição em que assumimos que, no final, podemos ser nós a mudarmos de opinião por estarmos… errados. O pessoal mais ralaxado talvez discorde e entre numa de “Vive e deixa viver” (já me aconteceu) mas… se estamos num bar e um amigo de gaba de sar uns açoites à namorada quando ela lhe responde mal não temos o dever de lhe fazer perceber que isso não está correcto, ou alertar as autoridades? Claro que é mais fácil ter uma atitude mais passiva, e acho que esse facilitismo muitas vezes está na génese destas atitudes de “Vive e deixar viver…”
O espetáculo da polícia acabou e os sauditas foram embora, deixando-me sozinho. Normalmente abeiro-me de um grupo e pergunto se posso fazer parte da conversa deles. Rejeitam-me uma vez em cada vinte ou trinta, a conversa não flui muito uma vez a cada quinze ou vinte, e uma vez a cada três ou quatro fico com eles algumas horas. Mas a razão para esta taxa de sucesso é uma breve análise anterior que me permite escolher o tipo de grupo que acho que me vai aceitar. Ali não estava a sentir essa onda. Não sei se era por eles, ou se era eu que me sentia intimidado. É estranho. Podia dizer que era por ser um país novo, mas imagino que se fosse no Brasil ou na Argentina não teria problema. Então porque estava mais renitente? Talvez tenha entranhada em mim a ideia de que os americanos têm alguma desconfiança com estranhos. O que é estúpido, porque se assim for, agora sou eu que me enterro em preconceitos. E, se por um lado, a melhor maneira de derrotar estes preconceitos é pormo-nos em situações que nos permitam confirmar, ou desconfirmá-los, por outro não gosto de forçar a cena. Se não me sinto à vontade para iniciar assim uma conversa espontânea essa conversa talvez não vá sair bem.
A meio da frase anterior percebi que a mesma era só uma reles desculpa que estava a dar a mim mesmo. Só nós…
Apesar de sozinho, estava com um groove porreiro e fui andando de bar em bar com música latina sem consumir nada até que achei que era um bom momento para ir embora. Precisava era de net para poder chamar um Uber. E foi assim que a noite deu uma pequena volta. Notei que havia um bar que estava fechado mas havia algum pessoal ao balcão e pensei que podia ir lá pedir para me fazerem um hotspot para me ligar. Entrei, meio a medo, pois afinal de contas o bar estava fechado, e aproximei-me do pessoal que falava italiano do outro lado do balcão onde um rapaz de chapéu e óculos de massa grossos arranjava umas bebidas. O bar era escuro e tinha pouca mobília, parecia que, na verdade, nunca tinha aberto. O dono, um italiano de cabelo escuro puxado para trás ofereceu-me logo uma cerveja e assim me sentei com ele e os dois argentinos com quem falava. Às tantas fomos para a sala maior, de paredes cor-de-roda e engajei em conversa com um muçulmano, um cristão hispano-americano e o argentino. Cada um dos três tentava convencer-me que deus existia usando os argumentos do costume de “Como é que explicas que?…” Acho que já falei extensivamente de religião nos meus outros livros, pelo que vos vou poupar por ora.
Por sorte um dos argentinos ia exactamente para o mesmo sítio que eu e assim, quando se fez hora, partimos juntos num Uber.